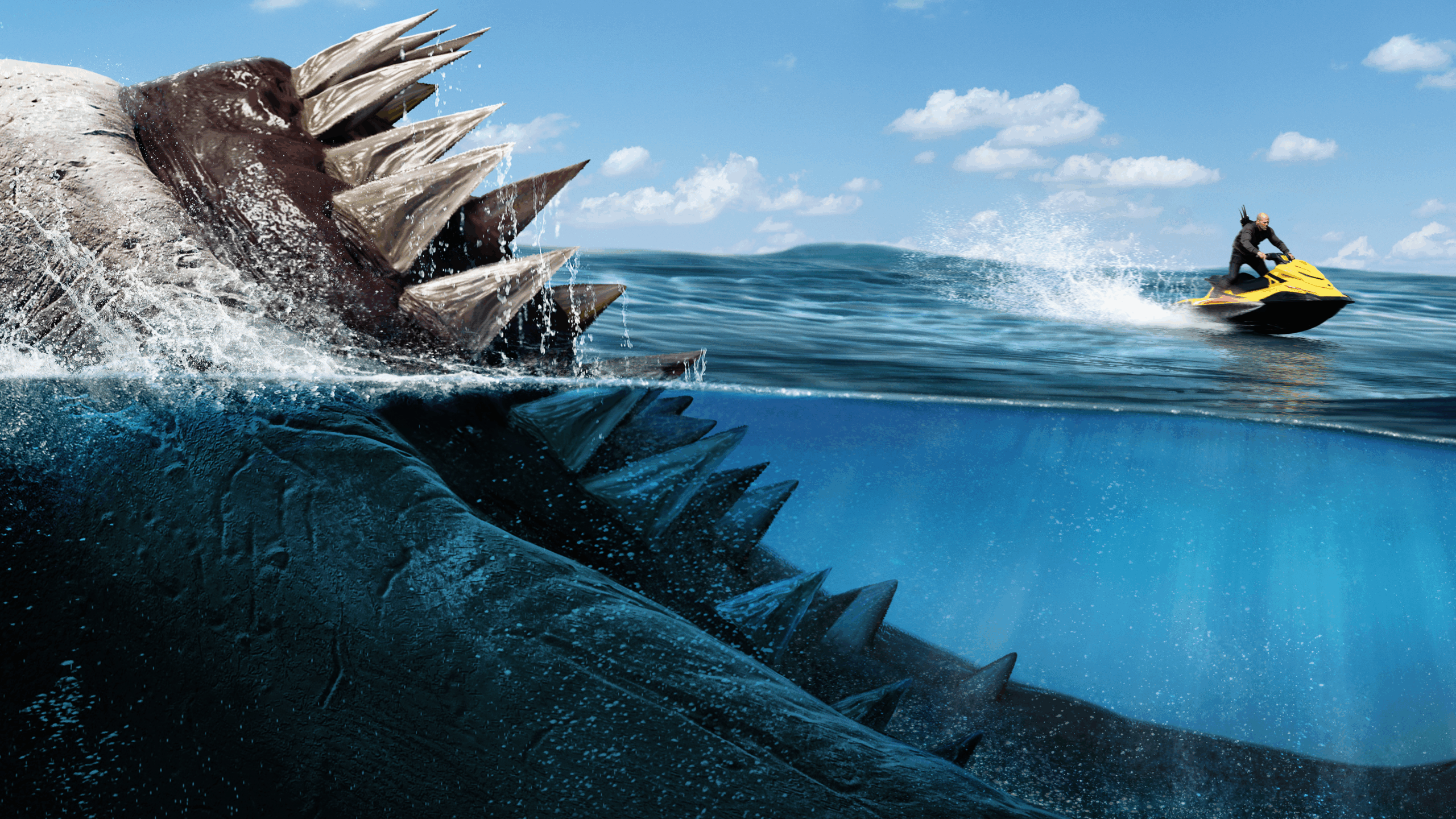Poucos artistas atravessaram o tempo e o espaço cultural como Elvis Presley. Décadas após sua morte, o “Rei do Rock” segue sendo uma das figuras mais influentes da música mundial, com fãs espalhados pelos cinco continentes e um legado que ultrapassa gerações. É esse espírito de celebração e memória que move o The Noite The Sucessos desta sexta-feira, 15 de agosto, quando Danilo Gentili e sua equipe relembram uma das edições mais icônicas do programa: o encontro de diversos sósias brasileiros do astro em seu palco.
Com figurinos brilhantes, histórias de vida curiosas e muito bom humor, os convidados que personificam Elvis prometem novamente encantar o público, mostrando que o fascínio pelo cantor continua tão forte quanto nos anos 50 e 60, quando ele abalou a música mundial com seu estilo inconfundível.
Elvis, o mito que não envelhece
Antes de mergulhar no especial, é importante entender o tamanho de Elvis Presley para a cultura popular. Nascido em Tupelo, no Mississippi, em 1935, Elvis revolucionou a música com sua fusão de country, blues e gospel, criando o rock and roll como o conhecemos hoje. Sua voz grave e única, aliada a um carisma arrebatador e uma performance cheia de movimento, conquistaram multidões.
Sucessos como Jailhouse Rock, Can’t Help Falling in Love e Suspicious Minds atravessaram gerações. Mas não foi apenas sua música que marcou época: Elvis também se tornou símbolo de uma era que rompia barreiras comportamentais, levando para os palcos e para o cinema uma imagem ousada, que incomodava conservadores e encantava jovens.
Sua morte precoce, em 1977, aos 42 anos, não apagou o brilho — pelo contrário, imortalizou sua figura. Desde então, fãs ao redor do mundo mantêm viva a memória do ídolo em shows tributo, exposições, festivais e até no hábito curioso de se vestir como ele.

O Brasil e a cultura dos sósias de Elvis
No Brasil, a paixão por Elvis encontrou eco em milhares de admiradores que, ao longo dos anos, se dedicaram a reproduzir não apenas suas músicas, mas também seus trejeitos, penteados, roupas e até mesmo o espírito contestador. Ser “sósia de Elvis” vai além da semelhança física: é encarnar um estilo de vida, carregar o peso de um ícone e, ao mesmo tempo, divertir o público com homenagens que oscilam entre o respeito e a irreverência.
O The Noite conseguiu reunir alguns dos principais representantes dessa cena no país, proporcionando ao público um espetáculo de humor, música e emoção. Cada participante trouxe ao palco não apenas a imagem do Rei do Rock, mas também sua própria história pessoal, marcada pela influência de Elvis.
O palco do The Noite com Danilo Gentili como espaço de memória
Na edição lembrada pelo programa desta sexta, a plateia acompanhou uma verdadeira parada de Elvis Presleys à brasileira. Havia quem homenageasse o jovem rebelde dos anos 50, quem preferisse o astro glamouroso dos anos 70 e até quem trouxesse interpretações mais criativas.
Entre os destaques está Elvis Porteiro, apelidado carinhosamente pelo público do programa por suas participações no quadro Roda Solta. Com seu jeito descontraído, ele mistura humor e devoção ao ídolo, conquistando gargalhadas sem perder o respeito pela figura que interpreta.
Outro convidado especial é Enzo Protta, um adolescente de apenas 14 anos que demonstra maturidade surpreendente ao homenagear o Elvis das décadas de 50 e 60. Com sua juventude, ele mostra que a obra do Rei continua alcançando novas gerações, revelando que a música de Elvis não é apenas memória, mas também futuro.
Já Peter Presley representa a vertente mais institucional da homenagem. Criador do Dia do Elvis Presley e do movimento Rockabilly em São Paulo, ele ajuda a manter viva uma cultura que extrapola os limites do entretenimento e se transforma em movimento cultural.
E, claro, não poderiam faltar as participações de Igor Guimarães e Diguinho Coruja, dois humoristas que mergulharam no clima e também se arriscaram em caracterizações hilárias, reforçando o tom irreverente que é marca registrada do programa.